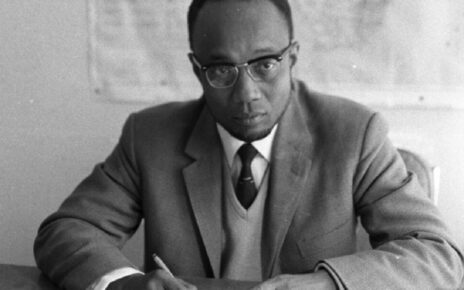O alarme toca. Preciso acordar para ir ao trabalho. Minha filha continua a dormir. Tomo um banho gelado e começo a me ajeitar da melhor forma, intencionando um autocuidado. Ela, às vezes acorda, antes da minha saída e consigo ter um pequeno tempo entre nós duas e o pai dela no início do dia. Lembro que volto logo. Saio de casa e, no caminho à estação de metrô, percebo os olhares [é o meu corpo sendo novamente hipersexualizado] mas permaneço firme, pois tornou-se hábito no dia a dia.

Dentro do metrô, os olhares dos pés à cabeça parecem invisíveis espinhos, atravessando a minha carne. Os comentários alegam que eu sou exótica; as perguntas, se sou natural da Bahia, por vezes de Pernambuco ou até mesmo do estado do Maranhão; ou então, se trabalho em alguma loja no shopping que fica próxima à estação. São muitas, sutis e escancaradas violências no cotidiano antes mesmo deu chegar no espaço da institucionalidade.
A maior violência é exatamente a vivência de normalizar a violência, conforme nos lembra Grada Kilomba. Para que possamos falar sobre as mulheridades negras nas instituições, é importante afirmar que o racismo é estrutural e relacional dentro do histórico da sociedade brasileira.
LEIA TAMBÉM: A intelectualidade e o movimento de mulheres negras
Racismo estrutural e relacional
No que se refere ao racismo estrutural, como diz Beatriz Nascimento (1942-1995) e Kabelenge Munanga, funciona desde o período colonial por meio da hierarquização de corpos – conforme o sistema jurídico, político e econômico. Sustenta-se através de uma lógica que permeia o projeto do branqueamento nacional ou da miscigenação, imposto pela elite nacional no fim do século XIX e no início do século XX, que objetivava através da hierarquia racial e ideologia nacionalista extinguir a população negra e indígena em até três séculos.
Por sua vez, o racismo relacional, parafraseando o professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Muniz Sodré, se manifesta por meio da lógica institucional e das relações vinculadas às instituições. Para ele, o racismo é pós-abolicionista e, estar contra o racismo, é estar contra uma estrutura concreta que permeia as instituições familiares, religiosas, escolares e de estado.
No entanto, defendo que o racismo estrutural e relacional estão interligados e caminhando lado a lado com o sexismo. Se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira, nas palavras de Lélia Gonzalez (1935-1994). Não é à toa que somos tão naturalmente colocadas no lugar da humilhação, da fetichização, da subalternização e da hipersexualização nos lugares que fincamos nossos pés. Como se fôssemos um depósito das projeções da nação – o que a branquitude brasileira rejeita em si.
LEIA TAMBÉM: Oxum primeiro lava seus ouros para depois cuidar dos seus filhos
Narrativas coloniais
Beatriz Nascimento (1942-1995) recorda que, numa sociedade como a nossa, em que a dinâmica do sistema econômico desde o período da escravização estabelece lugares diferentes na hierarquia de classes, existem alguns critérios estruturais e relacionais para o grupo dominante selecionar as pessoas que irão preencher os espaços e como serão as tratativas – um desses critérios de seleção é o racial, atribuindo geralmente às mulheridades negras a posição mais baixa da hierarquia, inconscientemente ou não, e perpetuando o processo de domínio social e do privilégio racial branco.
LEIA TAMBÉM: Depende de quem está contando a história.
Ferramentas de controle
É muito importante enfatizar nesse escrito que as mulheridades negras, juntamente com as masculinidades negras, foram o pilar para o sustento da instituição escravocrata, como fornecedora de mão de obra em potencial e concorrendo com o tráfico negreiro, inclusive, ainda hoje recai sobre nós a “dominação senhorial” – as ferramentas somente se modernizaram.
Considerando uma arquitetura institucional desenhada com portas de frente e portas de fundo: quem geralmente entra pela porta dos fundos? Quem abre as portas? A quem recai o problema? Qual é o perfil das babás, amantes, mães solos e mulheridades subalternizadas? Onde majoritariamente elas moram? Esses corpos são geralmente legitimados, valorizados e reconhecidos?
Por que será que nós mulheridades negras geralmente desempenhamos dentro das instituições atividades que não implicam nas tomadas de decisão? Por que é tão comum que tenhamos a nossa voz e as nossas escolhas controladas gerando, muitas vezes, desconforto no grupo dominante? Por que as travestis negras são as que mais têm suas vidas ceifadas na calada da noite, em praça pública e nos motéis?
LEIA TAMBÉM: O epistemicidio que fere também mata
Fim do dia
Final de expediente. Com saudade da minha filha e cansada, saio do trabalho. No caminho à estação de metrô, pessoas de uma ação religiosa cristã me lançam um olhar de reprovação dos pés à cabeça e me oferecem panfletos. É da igreja universal. Entro na estação. O metrô chega, lotado, mas entro mesmo assim, na ânsia de ver minha menina e desaguar o dia com os meus.
Muitas de nós ao deitar para dormir ninguém percebe o choro e as lágrimas; ninguém enxuga, reforçando a atemporalidade da violência moderno-colonial. Que possamos ser escutadas, vistas, reconhecidas e legitimadas com toda nossa potencialidade em um país que, há mais de 500 anos, alimentamos. Hoje e nos dias que virão, desejo para nós abundância, reparação e justiça. Que minha mãe Oxum nos abençoe!
LEIA TAMBÉM: Ossaim, aprendizado e sabedoria de quem se é!
Referências bibliográficas
BEATRIZ NASCIMENTO, Maria. Orí. Documentário dirigido por Raquel Gerber, roteiro, texto e narração de Beatriz Nascimento. Lançamento: 1989. Duração: 91 minutos, Brasil.
___. Uma história feita por mãos negras. Organização de Alex Ratts. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.
GONZALEZ, Lélia. Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244.
KILOMBA, Grada. Grada Kilomba: desobediências poéticas. Curadoria Jochen Volz e Valéria Piccol; ensaio Djamila Ribeiro. São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2019.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Autêntica Editora, 2019.
SODRÉ, Muniz. O fascismo da cor: uma radiografia do racismo nacional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2023.
*Este artigo é uma colaboração da psicóloga Nívia Tôrres
Sobre a autora

Nívia Tôrres, atualmente, está como técnica da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará cuidando da política cultural negra e gerenciando desde o ano de 2024 a implementação das ações afirmativas no âmbito cultural do estado. Psicóloga CRP11/20024 e psicoterapeuta por meio de uma clínica racializada, afetiva e anticolonial. Mãe, artista e pesquisadora. Membra da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as-ABPN. Acumula conhecimento, experiência e atuação no campo político artístico, clínico, cultural, socioeducativo, das ações afirmativas e das relações étnico-raciais.
Foto de capa: Admar Kamosso/Pexels.
LEIA TAMBÉM: Tendência de consumo em favelas foge de estereótipo da pobreza extrema